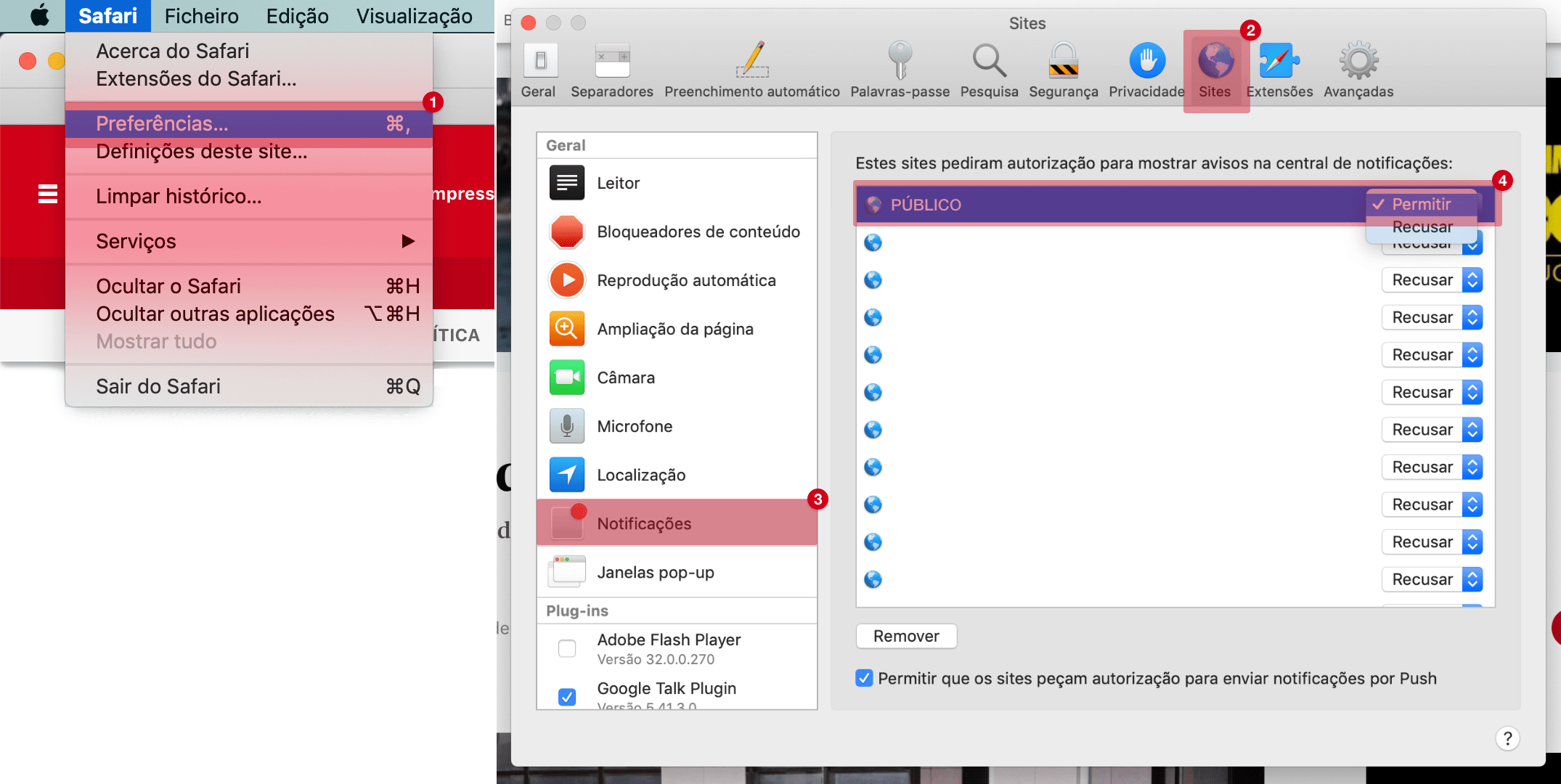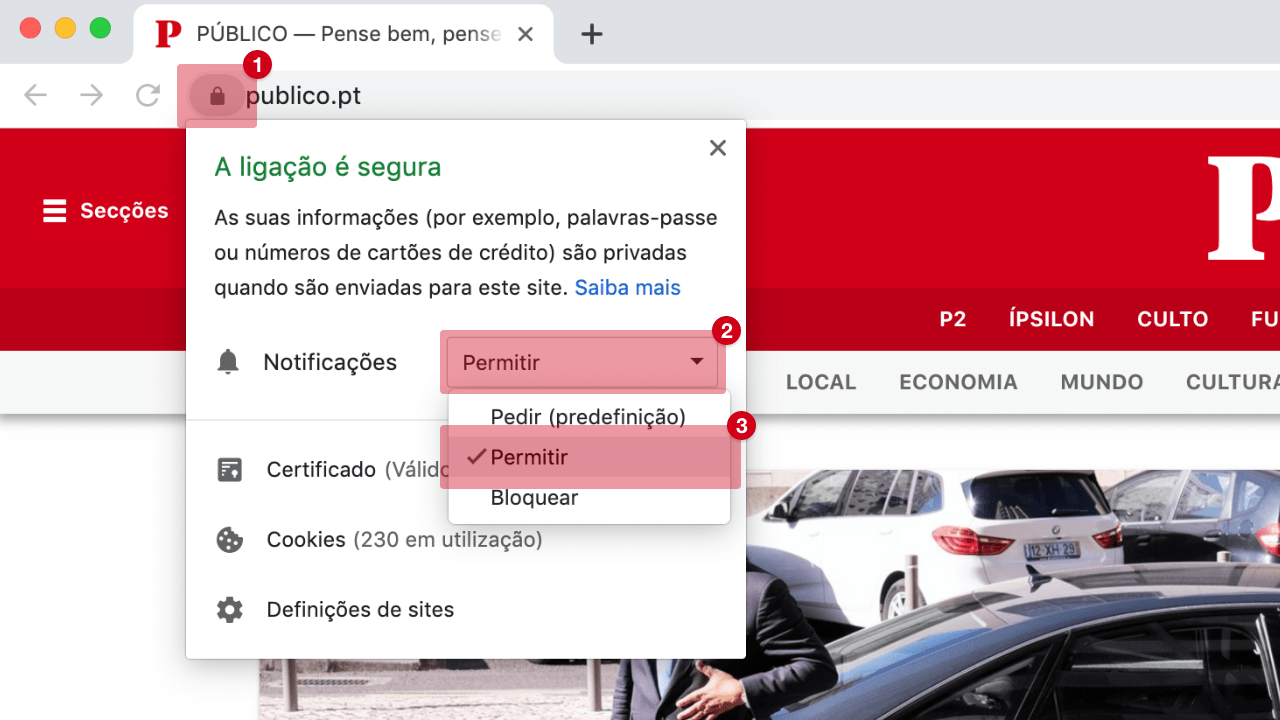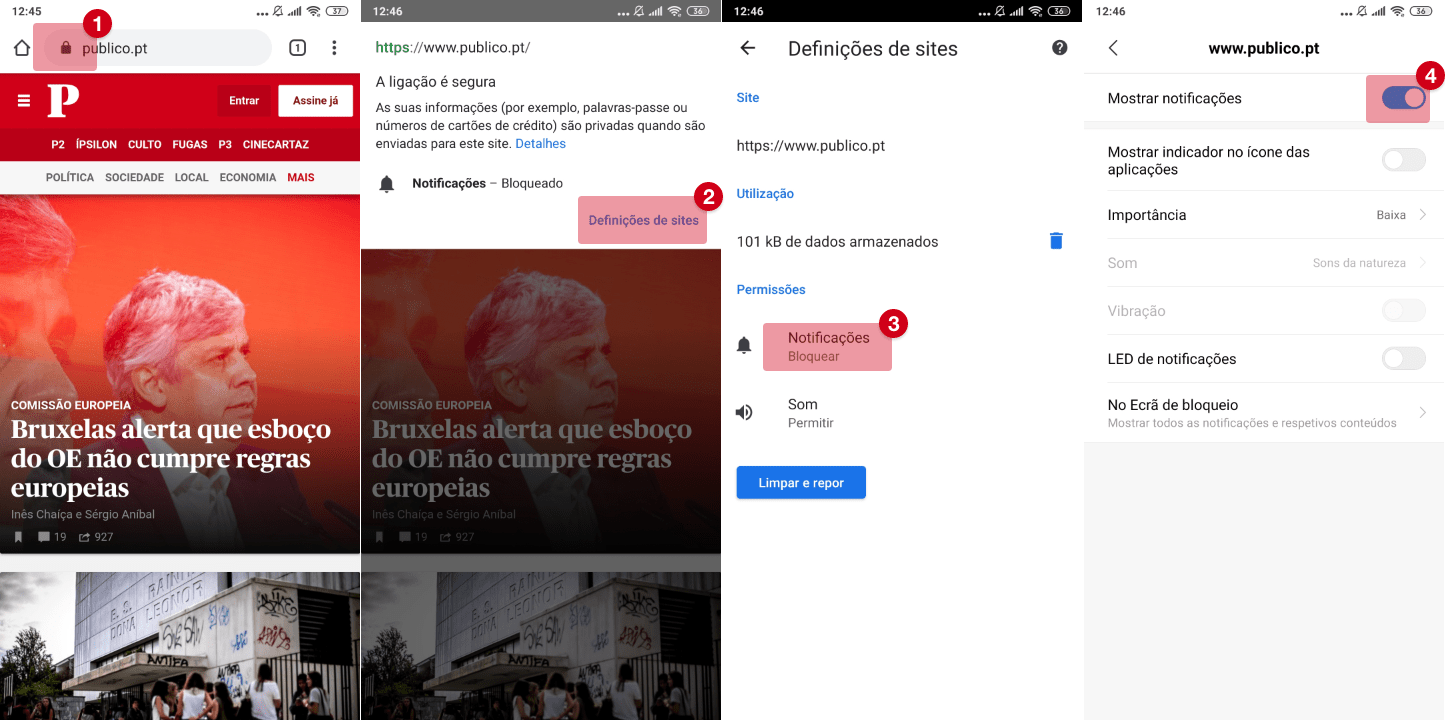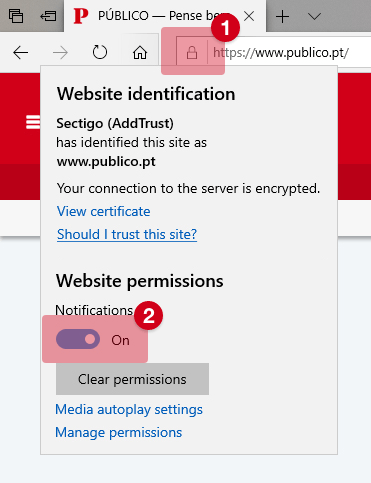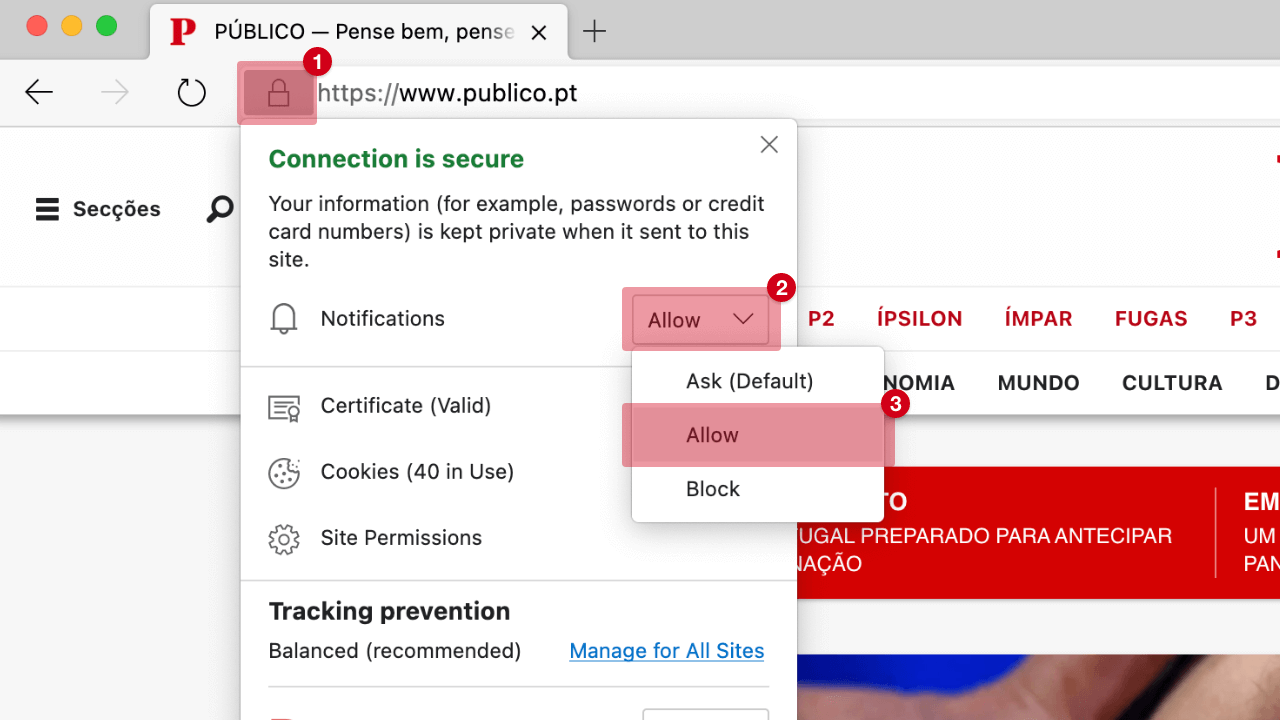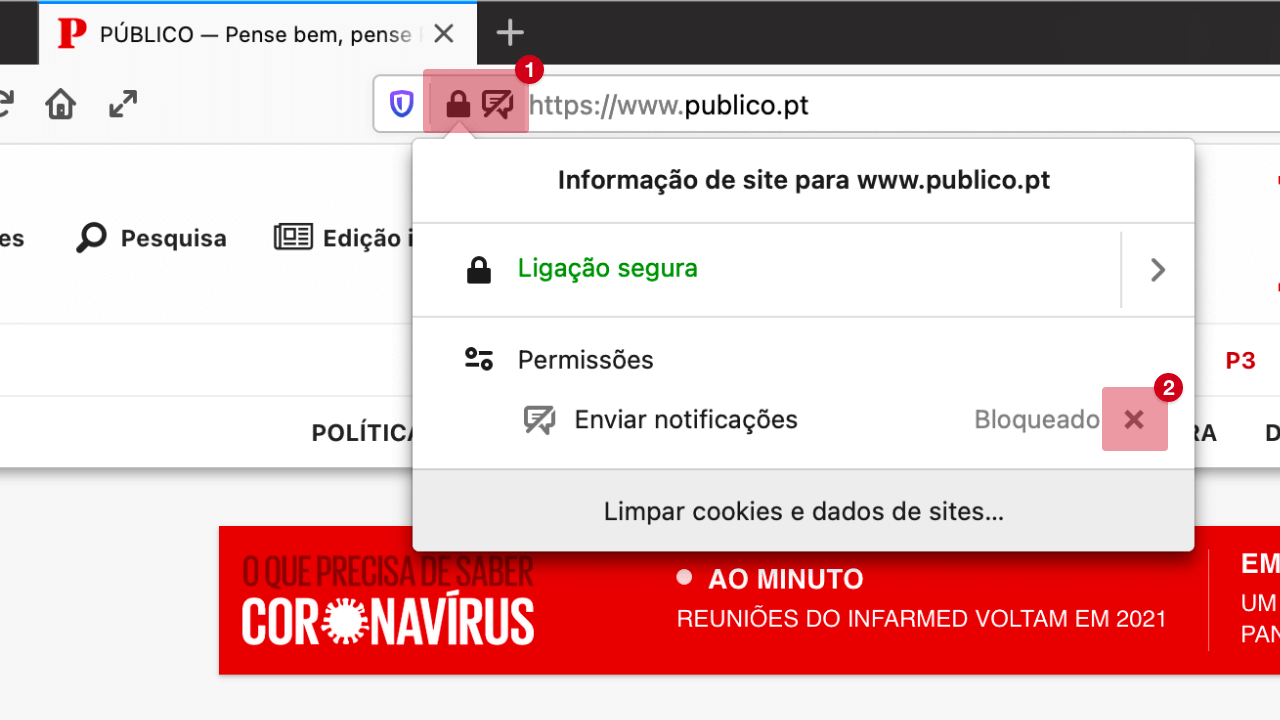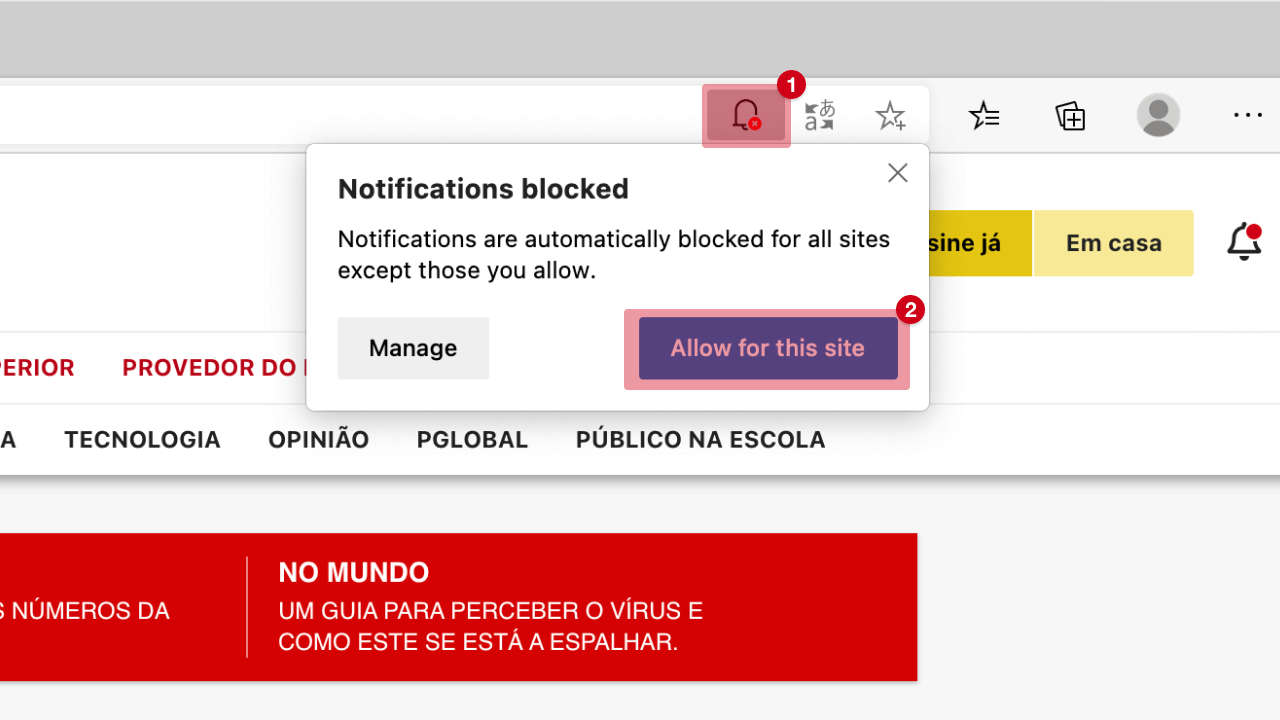Aqui na América
A culpa é sempre do árbitro
Notas made in USA sobre a vida americana. Pedro Guerreiro escreve a partir dos Estados Unidos.
Ocorreu um erro. Por favor volta a tentar.
Subscreveu a newsletter Aqui na América. Veja as outras newsletters que temos para si.
O meu clube merece ganhar sempre; se perder, é porque o árbitro é ladrão. A lógica maniqueísta e binária da clubite desportiva impregna cada vez mais áreas da vida colectiva, e em poucos países isso é hoje tão visível como aqui nos Estados Unidos.
Exemplo disso foi a reacção, expectável, à condenação de Donald Trump no intrincado processo-crime de violação das leis eleitorais, em Nova Iorque, em torno da compra do silêncio de uma estrela pornográfica com quem teve sexo. Para os seus opositores e para a maioria dos observadores distanciados, foi a justiça a funcionar. Para os seus apoiantes, ou adeptos, prosseguindo a metáfora desportiva, foi um julgamento manipulado. Seguem o guião do próprio Trump, que se diz agora um "prisioneiro político".
Sobre o impacto político mais imediato, vale a pena ler os vários artigos do Alexandre Martins sobre os mares nunca antes navegados que temos pela frente até às eleições presidenciais de Novembro (spoiler: o caso não trava a candidatura de Trump nem, até ver, lhe custa o apoio da sua legião).
Para uma reflexão mais lata sobre como "a radicalização e a polarização da vida política alimentam os extremos a um ponto em que a racionalidade perde todos os dias contra as emoções primárias e tribais", recomendo a leitura desta análise da Teresa de Sousa.
Centro-me aqui noutro aspecto: sobre como não há soluções perfeitas para prevenir ou remediar a desconfiança nas instituições e a sectarização das leituras de uma mesma realidade.
Donald Trump soma processos em diversas instâncias judiciais do país, não num único tribunal: o processo criminal agora decidido em Nova Iorque, onde já perdeu um processo civil de fraude financeira e o caso de difamação de E. Jean Carroll; a acusação federal de interferência eleitoral em curso no Distrito de Colúmbia e a acusação estadual similar na Georgia; e o caso dos documentos secretos levados da Casa Branca, que aguarda julgamento na Florida.
Somam-se ainda as diferentes deliberações de vários estados sobre se Trump pode ou não, nestas circunstâncias, apresentar-se a eleições, questão entretanto arrumada pela decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos de que sim, pode concorrer.
Se há uma conspiração em curso para travar Trump, falta-lhe coordenação e competência: os casos arrastam-se para lá do calendário eleitoral, o seu eleitorado não desmobiliza e não há efeitos práticos para a sua candidatura. Mas para quem assistir a alguns minutos de canais televisivos como a Fox News, a Newsmax ou a OANN, ler as páginas de opinião do Wall Street Journal ou do Washington Examiner, ou seguir alguns comentaristas conservadores nas redes sociais, a conclusão é que o sistema judicial norte-americano, tomado pelo inimigo, uniu-se para tramar Trump.
Apesar de toda a criatividade constitucional dos founding fathers, os Estados Unidos herdaram inicialmente muitos dos preceitos britânicos. Se o Rei nomeava os juízes, também o governo federal, os governos estaduais e as legislaturas norte-americanas nomeavam os seus magistrados. Para garantir a sua independência face ao poder político, defendia Alexander Hamilton, as nomeações federais seriam vitalícias.
A solução seria contestada poucas décadas depois, em meados do século XIX, pelo populismo jacksoniano de Andrew Jackson, o primeiro Presidente norte-americano de origens humildes, um "plebeu" isolacionista e racista, adversário feroz das elites, de quem Trump é um distante descendente político. Num ambiente de desconfiança generalizada em relação à jovem oligarquia americana, vários estados avançaram então para a eleição por voto popular, com mandatos limitados no tempo, dos seus principais juízes e procuradores.
Ao longo do século XX, os estados norte-americanos foram procurando equilíbrios entre a necessidade de garantir a independência dos juízes e a exigência popular de que os magistrados respondessem perante os cidadãos. Hoje, os EUA são uma manta de retalhos em que alguns estados escolhem nas urnas os seus juízes e procuradores, apoiados directa ou indirectamente pelos partidos políticos, em que outros colocam a eleição nas mãos de comités, governadores, legislaturas e mayors, e em que outros conciliam de alguma forma as duas vias.
É um cenário raro no mundo: fora dos Estados Unidos, só no Japão, na Bolívia e nos cantões suíços se vota para eleger juízes. Sendo que os norte-americanos, em grande parte das suas cidades, condados e estados, também elegem directa ou indirectamente os seus responsáveis policiais e escolares, entre outros cargos (a floresta de cartazes eleitorais nos relvados americanos é verdadeiro espectáculo).
Não me alongarei sobre a questão do Supremo Tribunal norte-americano, cujos juízes são nomeados para um mandato vitalício pelo Presidente, dependente de confirmação pelo Senado. O Alexandre Martins escreve há anos sobre as dinâmicas de captura política do Supremo e as suas consequências.
O ponto, aqui, é que não há inovação que resolva o problema da desconfiança sectária em relação ao sistema judicial, sobretudo quando esta é cultivada por agentes políticos. Nem mesmo perante o peso, nos Estados Unidos, do sistema de júri, em que a culpa ou inocência do réu é decidida por um conjunto de cidadãos seus pares, e em que a condenação, como no caso de Trump, requer unanimidade.
A situação, concluindo a metáfora inicial, faz-me lembrar a introdução do VAR no futebol. As câmaras de vídeo e os computadores vinham eliminar o erro e a suspeita de favorecimento da arbitragem, esperava-se. Todos sabemos o que não aconteceu. A culpa continua a ser do árbitro, mesmo quando está tudo na cabeça do adepto.